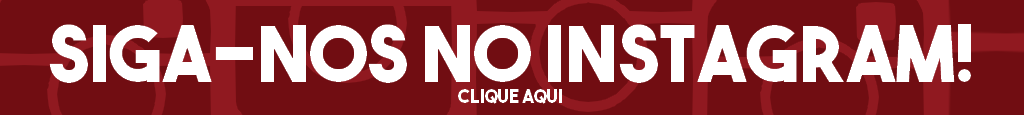Passado, presente e futuro: praticidade e engajamento na arte brasileira
- 10 de junho de 2021
Mesmo durante os anos mais severos da ditadura militar, artistas nas esferas da música e do cinema conseguiram se mobilizar, através dos recursos que possuíam, para produzir uma arte engajada através de uma forma prática. Hoje, o panorama artístico independente passa por novos desafios, podendo utilizar as lições do passado para iluminar seu caminho
Por Igor Nolasco
Engajamento e embate entre movimentos artísticos
No que se refere ao Brasil, algumas movimentações ao longo de nossa história parecem ser, digamos, cíclicas. Não que as coisas se repitam sempre da mesma maneira (ou “primeiro como tragédia, depois como farsa”, como dizia o poeta), mas sim que, num plano maior das coisas, determinados eixos parecem ser retomados de tempos em tempos de novas maneiras. A partir daí, podemos tomar nota de algumas atitudes passadas como uma forma de pensar o presente e o futuro a partir da produção artística independente. No texto que segue, faremos isso nos balizando em uma leve pesquisa bibliográfica e em um olhar analítico sobre certas facetas do atual panorama artístico brasileiro.
Do meio para o final da década de 1960, sobretudo a partir de 1967, a repressão da ditadura civil-militar que então governava o país foi se intensificando em todas as frontes, culminando no violento Ato Institucional de número cinco em dezembro de 1968 – e sobre os desdobramentos do AI-5 na esfera do cinema brasileiro, já discorremos num outro texto desta modesta coluna que me cabe.
A movimentação artística (tanto no popular quanto nas vanguardas) ao longo desse período de endurecimento do regime foi amplamente noticiada pela imprensa da época, por vezes de maneira até participativa – afinal, foi o jornalista Nelson Motta que lançou ao público, em março de 1968, o rótulo “tropicalista”, através de sua célebre coluna no jornal Última Hora. Com o distanciamento histórico que só pode ser proporcionado pelo tempo, hoje esses anos decisivos para a moderna cultura popular brasileira são amplamente pesquisados dentro da comunidade acadêmica (para além de serem objetos de inúmeros documentários, filmes de ficção, seriados, romances, etc).
Um retrato crítico e aprofundado dessa época é parte do livro “Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado – cultura marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970″, de Frederico Coelho. Ao longo de sua elaborada dissertação, o pesquisador se atenta ao fato de que, durante esse período, alguns rótulos eram empregados por determinados artistas para definir a seus próprios trabalhos como uma demarcação de posicionamento. Dentre alguns desses rótulos estavam o já citado “tropicalista” e, claro, “engajado”.
A música “engajada” era um verdadeiro sucesso de público na década de 60, popularizada através do que passou a ser conhecido como “canções de protesto”. Nos festivais da canção, eventos televisionados que ajudaram a definir os rumos da música popular brasileira sessentista, por vezes o tropicalismo ou mesmo a já antiga bossa nova eram vaiados com fúria por não se mostrarem suficientemente engajados. Como um exemplo prático, basta tomarmos o caso do FIC (Festival Internacional da Canção) de 1968, realizado pela Globo, no qual a vitória de “Sabiá”, composição de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque, sobre “Para Não Dizer Que Não Falei das Flores”, de Geraldo Vandré, foi recebida com profundo dissabor pela plateia, composta em peso por um perfil juvenil, estudante e engajado. O panorama no cinema, em paralelo, era bem diferente do que estava acontecendo na esfera musical.
O Cinema Novo já vinha de uma efervescência que germinara ao longo dos anos 1950, através dos esforços primários de Nelson Pereira dos Santos em estabelecer um novo paradigma de realismo social na cinematografia brasileira (conforme já discutimos nesta coluna, em mais de uma ocasião), e desabrochara ao longo da década seguinte nos trabalhos de cineastas como Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni e Glauber Rocha. Tal processo é bem documentado por Jean-Claude Bernardet em seu ensaio “Brasil em Tempo de Cinema” (1967), escrito no calor daqueles acontecimentos.

Em 1967, Glauber lança “Terra em Transe”, talvez a expressão mais celebrada de seu cinema barroco e politicamente inflamado e que impressionou apenas para citar dois “lados” dissidentes, Caetano Veloso e Nelson Rodrigues. Ambientado no fictício país de Eldorado (uma republiqueta das bananas para ninguém botar defeito), “Terra em Transe” talvez seja o filme mais “engajado” do cineasta baiano até aquele. No filme, Glauber não poupa ninguém; dos políticos populistas aos golpistas com sede de poder, do povo miserável ao intelectual de esquerda que tenta, através da luta armada, por na prática o que expressa em sua poesia – e falha miseravelmente.
Após esse ápice, em 1968 o Cinema Novo já começava a apresentar os sinais de desgaste que levariam à dissolução prática do movimento; conforme salienta Frederico Coelho, o “grupo de diretores da primeira geração do Cinema Novo” agora estava focando seus esforços “no processo de industrialização do cinema, a partir da fundação da [produtora e distribuidora cinematográfica estatal de capital misto] Embrafilme, em 1969”, com a “transformação paulatina da produção autoral do Cinema Novo em uma indústria cinematográfica” (p. 231-252). Se antes os filmes cinemanovistas eram realizados com orçamentos enxutos que assumiam as condições precárias de produção enquanto escolhas de linguagem, agora os grandes nomes do Cinema Novo comandavam longas de alto orçamento, como “Os Herdeiros” (1970), de Carlos Diegues, ou “O Barão Otelo no Barato dos Bilhões” (1971), de Miguel Borges.


Ainda em 1968, no entanto, um outro cinema engajado e barulhento começava a se impor enquanto novidade (segundo Glauber, uma “velha novidade”): o chamado “Cinema de Invenção”. Enquanto o “núcleo duro” do Cinema Novo era radicado no Rio, o do Cinema de Invenção era em São Paulo, com um foco de produção e distribuição na região conhecida como Boca do Lixo (com algumas exceções, entre as quais a do carioca Júlio Bressane).
A disputa entre os dois se dá de forma não apenas geográfica, como também estética, ideológica e mesmo prática – afinal, lembra Frederico Coelho, a disputa na área cinematográfica “envolvia questões de caráter estético, mas também financeiro e industrial – como a distribuição de verbas para a produção, de equipamentos e condições de filmagem, salas de exibição etc” (p. 201). Sobre o embate entre essas duas correntes, o colunista que vos fala já escreveu sobre, com mais detalhes, em um texto de outubro do ano passado.
Um questionamento em três fatores
Agora, nos debrucemos sobre a pergunta por trás de minha real vontade de fazer esse texto: uma arte engajada no Brasil atual é possível?
Antes de partirmos para uma resposta simples (“sim”), que encerraria o questionamento sem muita margem para reflexão, devemos desmembrar os fatores que tornariam essa arte engajada “possível” e pensar, conforme as atuais condições relativas a cada um desses fatores, a viabilidade dos mesmos. Para não nos alongarmos ainda mais do que já estamos fazendo (pois não quero abusar da hospitalidade da Badaró, que me oferece esse espaço com uma liberdade irrestrita), vamos nos ater, no que diz respeito à arte, apenas ao cinema.
O primeiro fator seria o fazer propriamente dito. É possível produzir essa arte engajada no Brasil atual? Arrisco dizer que hoje, os meios para tal estão mais acessíveis do que nunca – o que não significa que ainda não sejam excludentes, em certa medida.
Se para fazer um filme independente há cinquenta anos era preciso de, no mínimo, uma câmera Super-8 (bitola 8mm), hoje uma parcela bem maior da população tem acesso a um aparelho munido de câmeras digitais: o celular no modelo smartphone. Mesmo que esteja longe de ser a ferramenta adequada para o ofício cinematográfico profissional, o celular é, atualmente, um bom ponto de partida por sua disponibilidade e praticidade.

A Super-8 também não era adequada ao cinema “profissional”; a saber, o que chegava às salas de exibição comerciais, sobretudo pela impossibilidade de se realizar um filme com gravação de som direto nas primeiras câmeras 8 mm, que surgem a partir de 1965. Em geral, assim que podiam, os cineastas migravam para formatos que lhes permitiam maiores possibilidades artísticas e maior circulação de suas fitas, como a bitola 16 mm (formato popular entre os festivais de realizadores iniciantes) e a tão sonhada 35 mm, padrão ideal para o cinema comercial.
Os filmes Super-8 eram projetados majoritariamente em sessões informais, para convidados ou um público restrito de amigos do realizador. Algumas poucas sessões recebiam maior atenção por parte da imprensa, sobretudo da dita imprensa marginal, rótulo abrangente que compreende jornais como O Pasquim, Flor do Mal, Presença e O Verbo Encantado, ou mesmo determinadas seções de jornais da grande imprensa, como o suplemento cultural “Plug” , do Correio da Manhã (capitaneado pelos poetas e compositores Waly Salomão e Torquato Neto, e que a partir de 1971 passa a defender o que Waly designava como “Super Frente Super-8”) e a coluna “Geléia Geral”, do Última Hora (de Torquato, com eventuais colaborações).
Conforme frisam os autores Sabeth Buchmann e Max Jorge Hinderer Cruz em “Cosmococa”, ensaio sobre a obra colaborativa de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida, esses veículos divulgavam a intensa movimentação cultural que acontecia no Brasil, mas também fora dele, sendo “uma plataforma para as vozes heterogêneas de exilados e artistas censurados”, num momento em que “grande parte da vanguarda brasileira [havia] se espalhado internacionalmente”, incentivando “formas de solidariedade e de continuidade, para além da ideia de produção cultural nacional” (p. 33).
A atuação da imprensa marginal ajudou a consagrar, por exemplo, “Nosferato no Brasil” (1970), de Ivan Cardoso (e o leitor logo entenderá com que propósito me estendo nesse exemplo). Além de receber elogios de nomes renomados nacional e internacionalmente no meio cultural, como o artista plástico Hélio Oiticica, o filme foi divulgado em peso por seu ator principal, Torquato Neto, que trabalhando também como jornalista, propagandeou com entusiasmo a fita de Cardoso. Segundo Torquato, a exibição do “Nosferato” e outros filmes Super-8 do mesmo diretor foi um verdadeiro evento do underground carioca:
“Quente mesmo foi a sessão de cinema que Ivan Cardoso promoveu anteontem nos salões da Taborda. Quente por causa dos filmes quentíssimos de Ivan e pela quente temperatura geral da platéia (convidadíssima), subindo, subindo, queimando e pegando fogo […], numa só noite e com apenas três filmes […]. Todo mundo lá […].”
“Classe A, artistas & poetas, fotógrafos e cronistas, atores e atrizes, classe B, classe 2A, jogadores e futebolistas, marginais e pirados, copy-desks [de jornal, responsáveis por realizar as cópias dos originais], cineastas, vampiros e mocinhas, amor & tara, os divinos e os repelentes, os deuses e os mortos, os mortos-vivos e os vivíssimos, publicitários e mecenas, amantes, desamantes, diamantes, carreiristas e desocupados, o tout-Rio de cima e o tout-Rio de baixo, caras limpas e caras bem quebradas, todo mundo lá, todo mundo firme nessa primeira grande noite pública do melhor cinema brasileiro que este cronista agradece comovido só porque existe”.
(NETO, Torquato. “Nas Quebradas da Noite”, publicado na “Geleia Geral” em 2 de dezembro de 1972. Em: CARDOSO, Ivan [org.], “De Godard a Zé do Caixão”, p. 251-252)
Se a exibição foi promovida tão efusivamente por Torquato em sua coluna num jornal de grande circulação, como era o Última Hora, isso quer dizer que o alcance amplificado e, consequentemente, o impacto duradouro de obras como os Super-8 de Ivan Cardoso foram ao menos parcialmente causados graças a uma ajuda da imprensa e de figuras influentes como Torquato Neto.
Para um cinema independente contemporâneo análogo aos filmes Super-8, seria difícil atingir tamanho impacto sem alguma divulgação através dos meios de comunicação; e a imprensa, hoje, parece pouco interessada nessa produção, que é registrada e discutida em maior escopo em portais de crítica de cinema que se propõem a cobrir festivais e mostras.
Voltando à relação entre as câmeras 8 mm e os smartphones, esta pode até mesmo ir além, se considerarmos que, por seu caráter econômico, prático e mais informal, a Super-8 era tida por alguns de seus defensores, como Waly Salomão, como “o primeiro degrau para a popularização dessas câmeras invasivas” (conforme citado por Frederico Coelho, p. 257), antevendo a constante câmera na mão da qual estamos munidos na atualidade e a maneira ostensiva com a qual a usamos para registrar a todo e qualquer momento do cotidiano.
Terminado este pequeno desvio (conto sempre com sua paciência, caro leitor) para entrar de cabeça na comparação entre o celular e a Super 8, passando pelo papel da imprensa na divulgação artística, sigamos para o segundo fator de nosso questionamento. Se o primeiro era o fazer, o segundo há de ser o fazer chegar.
A distribuição sempre foi um problema central para o cinema brasileiro (conforme discutimos em nossa coluna, em textos de agosto do ano passado e janeiro deste ano), sendo um dos principais agravantes para tal a competitividade acirrada com o produto estrangeiro, preferido pelo circuito exibidor e, consequentemente, pelo público. Essa batalha da cinematografia nacional pelo espaço de exibição dentro de seu próprio país existe desde o começo, e já foi objeto inclusive de alguns filmes, com destaque para o curta-metragem “Cinema brasileiro, mercado ocupado” (1975), de Leon Hirszman. Mesmo hoje, o produto nacional depende de leis como a da cota de tela, que demanda a exibição de uma porcentagem de filmes brasileiros em salas de circuito comercial, para conseguir penetrar nesses espaços.
No Brasil, desde pelo menos os anos 1960, uma das principais frentes para a veiculação dos filmes independentes (ou “de guerrilha”) está nas mostras e festivais, que a essa altura do campeonato existem em impressionante variedade, para todos os gostos e em diversos cantos do país. Desde o início da pandemia de COVID-19, inclusive, uma boa parte destes, dos maiores e mais famosos aos menores e mais simples, migraram parcial ou totalmente ao formato remoto, com os filmes sendo disponibilizados na internet ou exibidos na televisão – mudança que já cobrimos nesta coluna em setembro de 2020, e cuja saturação foi também constatada pelo olhar deste colunista em dezembro do mesmo ano.
Independente de um desgaste por parte do público graças à gigantesca oferta de mostras e festivais na internet, um fator se mantém: para o cineasta que busca, hoje, produzir uma arte engajada, não faltarão opções de vitrine para seus trabalhos. Com os festivais online, esses filmes estarão acessíveis virtualmente ao Brasil inteiro (e mesmo a quem está fora do país), em detrimento do que ocorreria em eventos “analógicos”, por assim dizer, onde, mesmo nos de maior prestígio, a exibição, num primeiro momento, estaria restrita ao determinado espaço geográfico relativo à realização do evento. Como já comentamos em nossas colunas supracitadas, mesmo com um eventual fim da pandemia (ainda é possível sonhar no Brasil?), dificilmente as mostras e festivais regredirão totalmente ao formato estritamente presencial após constatarem a projeção ganhada pela veiculação de sua programação na internet.
Por último, mas não menos importante – arrisco dizer, na verdade, que talvez seja esse o ponto mais importante – chegamos ao terceiro fator de nosso questionamento: o preservar.
A preservação é outro dos graves problemas que o cinema brasileiro enfrentou ao longo de sua história – conforme já dito anteriormente em diversos textos dessa coluna – e as coisas não ficaram muito melhores com o advento do digital. Antes, a película de nitrato estava sujeita a ser consumida por chamas, estragada por água ou deteriorada pela chamada “síndrome do vinagre” – isso sem falar dos filmes que foram perdidos graças a existência de poucas cópias (ou mesmo de uma única) que desapareceram. Hoje, se o digital dá a falsa sensação de maior segurança, durabilidade e permanência das obras (que são, agora, “arquivos”), isso não quer dizer que não devam ser tomados outros tipos de cuidado.
A existência de produções realizadas nos últimos anos, afinal, está sujeita a computadores, HDs externos e outros dispositivos que podem parar de funcionar a qualquer momento (sendo inclusive impulsionados para tal pelo fenômeno conhecido como “obsolescência programada”), a plataformas e sites que podem sair do ar ou mesmo excluir o conteúdo ali presente, ou à famosa “nuvem”, na qual se precisa comprar (ou pagar mensalmente) para obter mais espaço recorrentemente para manter arquivos. Se nas produções do passado eram (e continuam sendo) necessárias a feitura de novas cópias, telecinagem e armazenamento adequado das películas, nas do presente a paranoia do digital se faz valer através da necessidade de constantes backups.
Conclusões possíveis
Pode-se dizer que não faltam ferramentas às mãos de uma parcela substancial da população (muito maior do que, digamos, a que detinha os meios para tal nos anos 1960-70) para que as partes interessadas possam se enveredar pela realização artística. A partir disso, existe a abertura para uma arte engajada feita com a mesma vitalidade da que existia nos tempos da ditadura militar de 64.
Se a repressão daquele período hoje não existe de maneira tão explícita e mesmo fisicamente violenta (na verdade, está começando a voltar a existir), isso deve ser apropriado, hoje, como uma vantagem por parte do artista para que ele se expresse plenamente. A inexistência de um aparato repressor ligado a um departamento de censura formalmente designado como tal não quer dizer, entretanto, que esta não exista em outros moldes, como o corte de financiamentos públicos, a derrota em editais ou comissões de seleção em detrimento de projetos mais “neutros” (como no caso “Aquarius”, em 2016) e a extinção de determinados repasses de verbas – como vem acontecendo com a Cinemateca Brasileira de São Paulo, que nem é propriamente um órgão “subversivo”, mas cuja mera existência sob o propósito de preservar o patrimônio fílmico brasileiro já é lida como subversiva pelo atual Governo Federal (mais sobre isso em textos publicados nesta coluna em agosto e novembro do ano passado).

No que se refere especificamente ao fazer cinematográfico, ainda existem alguns empecilhos. Não é fácil se inserir na “produção formal”, por assim dizer, que envolve financiamento público-privado, registro na Agência Nacional do Cinema, cadastro de pessoa jurídica e outros requintes burocráticos necessários para o lançamento em circuito comercial, que hoje inclui salas de cinema, televisão e as principais plataformas digitais. A internet, no entanto, está aí para quem quiser fazer sua arte e sua mensagem chegarem a quem interessar. Muitas vezes, sem retorno financeiro garantido, é verdade. Talvez as dificuldades de uma arte autossustentável nesse sentido (afinal, o artista é um ser humano, precisa comer, pagar contas, ter um teto e, claro, dinheiro para executar seus projetos) seja o que mais entrava na estruturação de uma arte verdadeiramente engajada no atual panorama cultural brasileiro.
Friso o verdadeiramente porque, de 2016 pra cá, engajamento no Brasil por vezes é não mais que um grito vazio, entoado na esperança de projetar o artista a uma determinada vitrine. Basta visualizar uma apresentação musical realizada em uma grande capital, de público expressivo e formado majoritariamente pelo que escritores como Paulo Francis e Nelson Rodrigues consagraram como “esquerdas festivas”, durante o período que vai do turbulento processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao final do governo provisório de Michel Temer. A banda ou o artista subia no palco, tocava suas músicas e, em dado momento da apresentação, entoava um energético “Fora Temer”. Muitas vezes, faziam isso, inclusive, na abertura ou no encerramento dos shows. A recepção do público a esse grito servia como termômetro para a ligação entre músico e plateia. Dependendo da reação do público, muitas vezes o artista sabia já tê-lo “ganhado” ali, conquistado-o meramente por ser vagamente “de esquerda” (ou, às vezes, nem isso). De igual maneira, alguns artistas “independentes” (com aspas, pois por vezes bancados por grandes gravadoras), de lá pra cá, chegaram a gravar canções com vagos motes políticos.
Isso sem falar do cinema – nos últimos seis anos, mais ou menos, o “novíssimo” cinema brasileiro foi sufocado por uma avalanche de “filmes necessários”, em verdade tão ameaçadores quanto um velho leão de zoológico abatido por remédios anestésicos, e assistidos apenas por um determinado público, composto majoritariamente por uma elite financeira/intelectual ou por uma juventude universitária (mesmo público, diga-se de passagem, dos shows da festiva onde o “Fora Temer” era tão presente).
O que se tira disso tudo é que não basta a arte ser supostamente engajada de maneira genérica e atada apenas a chavões discursivos ou mesmo estéticos, como é o caso do “novíssimo”, onde quase todos os filmes “necessários” seguem o mesmo padrão de cacoetes de linguagem adorados pelos festivais nacionais e internacionais. A mensagem precisa ser bem estruturada artisticamente, apropriada pela arte não apenas com o propósito de conquistar o público como se este fosse uma torcida. E o mais importante, a arte precisa ser boa.
Não se falaria sobre a arte engajada do passado se esta não fosse necessariamente de qualidade. Se músicos como Caetano Veloso e Geraldo Vandré, ou cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, não produzissem uma arte complexa, estética e intelectualmente estimulante, que não obstante almejava chegar ao popular através da disseminação do discurso, de nada prestariam “Para Não Dizer Que Não Falei das Flores” ou “Rio, Zona Norte”, por exemplo.
Estas são apenas as considerações de um colunista, e cada um tira delas o que quiser. Meu apelo é somente um: façam arte, e façam arte boa. No caso do cinema, não faltam festivais para a produção independente realizados na internet, além da boa e velha autoveiculação em plataformas como o YouTube ou o Vimeo (ainda que mediante aos problemas anteriormente discutidos). No caso da música, Bandcamp e Soundcloud dão conta do recado. O que resta a se fazer é procurar a saída disponível para dar vazão à verve artística de cada um. Como já dizia Jards Macalé, prenhe de razão, “a saída é a porta principal”.